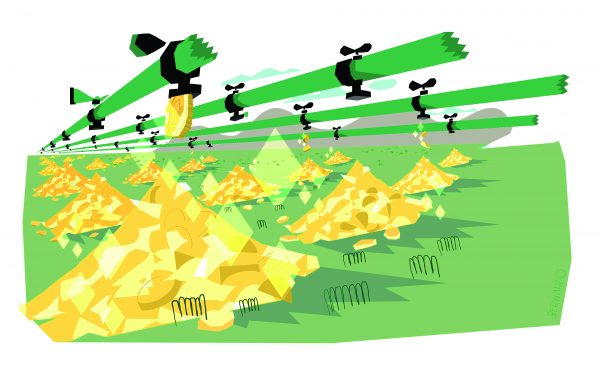Nos anos 1990, a Universidade de Oxford publicou uma coletânea de artigos sobre o risco crescente de novos vírus capazes de produzir epidemias globais por causa da destruição da natureza (MORSE, 1996). Escritos em tom de urgência, os artigos buscavam apontar como as transformações econômicas, a urbanização e as mudanças climáticas criam condições para que vírus prosperem, de pequenos surtos a epidemias de rápida disseminação. Seguindo esse caminho, o historiador Mike Davis passou a investigar a complexa teia de relações na origem da epidemia do vírus da HIV/Aids que, como sabemos, originalmente encontra em chimpanzés africanos seu repositório natural. Em razão do aumento do contato do seu hospedeiro em função do mercado de carnes de caça, o vírus acabou saltando para humanos. E, por trás do aumento do consumo de carnes de caça na África, estava a disseminação da pesca industrial de arrasto na costa atlântica do continente. Subsidiada por governos Europeus, a pesca industrial foi responsável por diminuir a biomassa de peixes pela metade na costa africana do oceano Atlântico entre 1977 e 2000. Tornados escassos e caros, os peixes dão lugar à carne de caça na alimentação cotidiana de extensas regiões da África Ocidental. A prática da caça, por sua vez, ocorreria para alimentar os trabalhadores da indústria da madeira, que avançava no mesmo ritmo, sobre as florestas africanas, também abastecendo os mercados da Europa e América do Norte. O contato entre animais silvestres portadores de vírus é assim dirigido pelo agronegócio da madeira e da pecuária industrial dos países do Norte sobre as terras e os mares do Sul global (DAVIS, 2006a), em um clássico exemplo de como o capital produz doenças.
A partir de reflexões como esta, sabemos hoje que o agronegócio é responsável por gerar ambientes apropriados para a amplificação do contato humano com vírus existentes e o impulso para a evolução de novos vírus. O epidemiologista Rob Wallace analisou como o surto de Ebola no Sudão, nos anos 1970, esteve ligado diretamente à pressão de industriais ingleses que, para expandir a sua produção de algodão, alteraram a dinâmica ecológica de toda uma população que vivia em florestas. Wallace também analisou como a última e mais mortal epidemia de Ebola, ocorrida entre 2013 e 2016 na Guiné e Costa do Marfim, esteve ligada à expansão da produção de óleo de palma, matéria prima essencial para 80% dos alimentos ultraprocessados. A expansão deste agronegócio foi responsável pela destruição florestal e pela atração desmedida de morcegos – que são reservatórios naturais para o vírus da Ebola. Trabalhadores semi-proletarizados fazem a colheita dos cocos das palmeiras, os carregam de volta para pequenas vilas, onde vivem em pequenos lotes rurais, os processam para deles extrair o óleo e em seguida levá-lo às cidades regionais onde o vendem para corporações transnacionais como a Socfin e Wilmar. Entre 1976 e 2000, a região oeste-africana perdeu uma área florestal equivalente a 500.000 km², em grande parte devido ao avanço inédito da indústria de óleo de palma para abastecer as corporações globais de alimentos processados. Matas nativas foram gradativamente substituídas por campos de cultivo de palmeiras, com um impacto indelével sobre a fauna de morcegos que, por sua vez, passaram a se alimentar e se abrigar nas copas onde os trabalhadores colhem a sua matéria-prima. O contato, antes fortuito, entre morcegos e humanos tornou-se constante e ampliou drasticamente as taxas de contágio, atingindo a marca de 30.000 casos e 10.000 mortes – um aumento de vinte vezes no número de casos e mortes em relação às epidemias de 1976 e 1996. A territorialização do contágio seguiu as linhas de migrações regionais desses trabalhadores, das plantações de palma, passando pelas zonas rurais, em direção às cidades regionais onde a matéria-prima é processada.
À guisa de comparação, entre 2000 e 2017, o Brasil perdeu uma área equivalente a 220.000 km2 de florestas na Amazônia por causa do desmatamento. Assim como as florestas africanas, nossas florestas são parte de uma enorme biodiversidade, com mais de 700 espécies de mamíferos, 1.800 espécies de aves, e assim por diante. Essa biodiversidade também pode ser encontrada no nível microbiológico, ou seja, nas espécies de vírus, bactérias, protozoários e outros microorganismos, cuja evolução está de tal forma ligada aos próprios animais e plantas que, por vezes, são identificados trechos inteiros de códigos genéticos de animais idênticos aos seus microrganismos. Vírus, bactérias e animais evoluíram juntos. Imaginar a vida na terra sem os micro-organismos é como querer viver dentro do Sol – simplesmente impossível. Quando destruímos as florestas e áreas úmidas, como é o caso do nosso Pantanal, e substituímos nossos biomas por imensas plantações como a soja e/ou o milho, cercadas de pastos para a criação de animais da pecuária industrial, estamos industrializando os viromas, ou seja, as comunidades de vírus, dentre os quais, muitos são capazes de causar doenças graves aos humanos e a outros que não humanos. Para encerrar o parênteses, de acordo com a modelagem feita pela equipe do professor e epidemiologista Simon Anthony em 2017 (ANTHONY et al, 2017), cada espécie de morcego encontrada no planeta porta entre duas e três espécies de coronavírus diferentes. Diante das mais de 170 espécies de morcegos encontrados no Brasil, existiriam cerca de 560 diferentes espécies de coronavírus. E, ainda que as plantações de palmeiras no Brasil estejam longe de parecerem com as fazendas do sudeste asiático ou da África, nós estamos imitando o seu exemplo a todo custo. Vivemos hoje uma encruzilhada dramática para a palma no Brasil: elevada a solução mágica pelo agronegócio, agora a palma é propagandeada também como resposta do capitalismo verde à crise climática, uma vez que a produção de biocombustíveis de palma vai ganhando terreno na Amazônia. Até cientistas bem-informados têm se deixado levar pela narrativa de que “a palma é uma solução econômica que deixa a floresta em pé e recupera áreas degradadas”. No entanto, como mostra a extraordinária investigação conduzida pela jornalista Karla Mendes, o negócio da palma na Amazônia está ligado ao desmatamento, à grilagem de terras, à violência sobre povos originários, à poluição, à exposição por agrotóxicos e à disseminação de doenças (MENDES, 2021) – assim como ao aumento do contato com animais portadores de vírus.
Não é necessário ser um imaginativo escritor de ficção científica para vislumbrar que as condições que deram origem à epidemias mortais como o HIV/Aids e a Ebola estão cozinhando no caldeirão do agronegócio brasileiro neste exato momento. Ou, ainda, ser capaz de enxergar na destruição capitalista da natureza pelo agronegócio as origens da presente pandemia da Covid-19: o desmatamento das florestas do sudeste asiático e sua conversão em áreas de plantio – cerca de 82.000 km² entre 2000 e 2018 (ZENG et al, 2018) – foi responsável pelo aumento do contato de morcegos com pangolins, uma espécie de mamífero natural da Ásia, que passaram a ser criados em fazendas intensivas na China. Tais transformações na chamada pecuária de carnes não-convencionais aconteceram depois da crise do mercado de carne de porco que atinge a Eurásia como um todo pelo menos desde 2007, quando surgiu a variante da Geórgia do vírus da Peste Suína Africana. Depois de devastar rebanhos no leste europeu e na Rússia, a Peste Suína Africana levou à morte duzentos milhões no sudeste asiático entre 2018 e 2019. A disseminação da Peste Suína Africana se inscreve no modo capitalista de produção de doenças: ao confinar para o abate dezenas de milhares de animais sem diversidade genética e imune, abrimos o caminho para a evolução dos vírus, tornando-os mais virulentos e contagiosos. Para tentar frear esta variante mais mortal da Peste Suína Africana, autoridades sanitárias em toda a Ásia promoveram abates sacrificiais em massa. Essa crise causou um desabastecimento no mercado de carnes de porco e incentivou a produção de pangolins. As fazendas de criação intensiva de pangolins se disseminaram nas províncias de Hunan e Guangxi, ao Sul de Wuhan, formando com esta última o território de produção, circulação e consumo de mercadorias que fundamentou o transbordamento dos vírus dos morcegos aos pangolins e destes aos humanos. O tempo da evolução e do contágio dos vírus e o tempo da produção pecuária se encontram, assim, perversamente sincronizados pelo ritmo da acumulação capitalista no agronegócio.
Desde o final dos anos 1990, a pecuária industrial de aves e porcos é responsável por surtos nas granjas de criação de animais, que levam à morte centenas deles, entendidos friamente como custos colaterais de um modo de produção cego e auto-destrutivo. Em 2022, somente nos EUA, cerca de 38 milhões de aves, entre perus e galinhas, foram mortas por causa de surtos de influenza aviária. Nos últimos 20 anos, novas cepas de influenza emergiram, capazes de causar danos também em humanos. Nunca é demais lembrar que no ano não muito longínquo de 2008, o mundo atravessou uma pandemia causada pelo vírus H1N1 da influenza. Sua origem está ligada a uma recombinação de cepas de diferentes famílias de influenza que circulavam em porcos e humanos nos EUA e na Europa, interconectadas pela mundialização do agronegócio. A linhagem da cepa pandêmica do vírus H1N1 surgiu primeiro em fazendas de criação de porcos nas zonas rurais da Carolina do Norte. Esta região é conhecida pelas históricas violações escravistas que deram lugar às pequenas fazendas de agricultores pobres e negros no século XX, submetidos hoje ao racismo ambiental que os expulsa usando a poluição da indústria de porcos quando estes não parecem mais rentáveis à indústria suinícola dos EUA – como bem demostrado pela pesquisa do professor e ativista Stephen Wing. No entanto, a disseminação global da H1N1 aconteceu a partir das fazendas Carroll na cidade de Perote, no México, a cerca de 250 km da capital. Estas fazendas operavam sob o controle do conglomerado americano Smithfield, que inundou o mercado mexicano com milho produzido com subsídios dos EUA, levando à falência pequenos produtores mexicanos, incorporados ao regime de integração vertical das transnacionais e ao seu sistema de produção industrial de doenças.
O agro-capitalismo é uma máquina de engolir mundos, cuja relação com as ecologias do planeta Terra é injustificável e inaceitável. Por trás de todo este sistema reside uma forma de relação social que precisa ser abolida, que depende de relações de trabalho abstratas, que submete toda uma constelação de práticas sociais ao ganho de dinheiro e à forma da mercadoria. Hoje também não há mais um mundo natural separado do mundo social, ao contrário, o que vemos é a industrialização doentia da natureza, dos corpos humanos, dos animais e até dos vírus e bactérias que eles contém. O capitalismo é um sistema cego e autodestrutivo e se não for abolido nos levará consigo em seu redemoinho de morte.
A modernidade capitalista surgiu no contexto da separação entre campo e cidade. E, só pode se sustentar enquanto puder manter essa separação. Nos campos, os agricultores que não se organizam em redes de solidariedade e apoio mútuo – como os movimentos dos Sem-Terra, os Pequenos Agricultores (MPA) e cooperativas – estão menos capacitados para reagir à coação constante dos jagunços do agronegócio: a força da bala da polícia burguesa, a força da lei do judiciário ruralista ou a força do dinheiro das corporações transnacionais. Acabam engolfados pelas mais modernas formas de produção, invariavelmente presos à espirais de dívidas, adoecimento e morte ou despejados nas periferias das grandes cidades caso sua expulsão se concretize. Ao estudar o caso dos agricultores no Camboja, na Ásia, Davis nos lembra que 60% vendem a sua terra e mudam-se para a cidade forçados por dívidas com assistência médica (DAVIS, 2006b). Nas cidades, a transformação do solo urbano em ativo financeiro cria uma força descomunal sobre seus habitantes, revelada nos preços dos imóveis urbanos e na estrutura do mercado imobiliário. Expropriados da terra e monetarizadas, mas sem dinheiro, projetamos populações inteiras em direção às favelas e periferias, justamente os ambientes ecológicos mais precários, sujeitos às contaminações oriundas das zonas de produção industrial e agroindustrial, assim como às epidemias urbanas. Todo o nosso modo de vida, como trabalhadores rurais ou urbanos, está intimamente conectado ao regime alimentar corporativo, que faz da comida, das águas, do solo e da terra mercadorias. Tal regime é insustentável diante da fome crônica que engendra em suas cegas negociatas: mantém a vida humana sob dumping, os custos de sobrevivência sempre acima das condições de reprodução da classe trabalhadora.
Se quisermos interromper esse modo capitalista de produção de fome e doenças, muito há que se abolir, seja do ponto de vista da habitação, dos territórios, das cidades e da conformação das suas periferias. A começar por essa linha divisória, imaginária e real, entre campos e cidades, que está no centro do debate sobre a emergência e o contágio de doenças. A pesquisa liderada por Claudia Codeço, da FioCruz-RJ, por exemplo, mostra como municípios localizados no arco do desmatamento da Amazônia, onde prevalece o monocultivo de grãos e a criação de gado bovino, apresentam incidência maior para doenças como dengue, Zika e chikungunya. Já a equipe da pesquisadora Sarah Guagliardo mostrou como barcos que transportam soja podem levar mosquitos para áreas rurais distantes até 19 km do centro urbano de Iquitos, no interior da Amazônia peruana. Aclimatados em latifúndios da soja e do milho, os mosquitos e seus patógenos estão cada vez mais urbanizados, onde se disseminam com mais força e velocidade. A própria espacialização da Covid-19 no Brasil durante a primeira onda esteve diretamente ligada aos frigoríficos, onde as carnes da pecuária industrial são processadas. Em função dos seus ambientes controlados, de baixas temperaturas e diante da recusa do agronegócio em fechar temporariamente as plantas ou simplesmente diminuir os ritmos de trabalho, os frigoríficos acabaram se tornando pólos que impactaram os níveis de contágio em regiões inteiras do interior do Brasil, atravessando em muito as fronteiras fictícias que separam fazendas de engorda de animais das cidades onde vivem seus trabalhadores.
Em seu tempo, ao descrever o advento da grande indústria capitalista tomando o lugar da manufatura, Marx anotou que a divisão social do trabalho, que subjaz a própria separação entre campo e cidade, acarreta um certo estropiamento espiritual e corporal ao trabalhador, dando lugar assim à produção industrial de doenças, ou a uma patologia industrial (MARX, 1988), em referência ao médico italiano Ramazzini, famoso por seu compêndio escrito em 1700: “As doenças dos trabalhadores”, no qual ele descreve os males acometidos a cada profissão – classificadas como doenças de agricultores, mineiros, parteiras, coveiros, carregadores, pescadores, etc. Marx, contudo, registra que a aceleração dos ritmos de trabalho que imolou crianças e mulheres grávidas nas fábricas européias no período da grande indústria aumentou o seu catálogo de ‘doenças dos operários’. A nossa modernidade tardia explodiu essa tipologia profissional de doenças, no estilo de Ramazzini: hoje, um minerador em uma caverna no sudeste asiático que contraia uma síndrome respiratória aguda pode estar a poucos quilômetros de distância de um centro urbano, pólo difusor de uma eventual nova epidemia.
Nesse sentido, a separação entre campo e cidade, entre camponeses pobres e trabalhadores urbanos, está na mira da epidemiologia relacional do capitalismo. Por um lado, a própria crise do capital borra as linhas divisórias entre áreas rurais e urbanas, quando proletariza bairros rurais e faveliza territórios indígenas. Na Ásia, tornam-se comuns as ‘desakotas’ ou aldeias urbanas, paisagens híbridas, com funções urbanas e rurais, onde o novo convive acirrando velhas contradições. Mas, por outro lado, a linha divisória campo-cidade está sob um outro ataque, este mais solidário, como os praticados pelas redes de alimentos de quilombolas do Vale do Ribeira (Cooperquivale), em suas campanhas de doações de alimentos para comunidades de favelas ao redor do estado de São Paulo. Um movimento de solidariedade profunda entre campo e cidade, tal como preconizaram também as redes de contrabando campo-cidade para resistir ao facismo na Espanha de Franco, convoca os trabalhadores urbanos a tomarem parte dos embates contra o agronegócio no campo e os trabalhadores rurais para tomar partido contra a mercantilização-milicilização das cidades.
Referências
ANTHONY, S. et al. Global patterns in coronavirus diversity. Virus Evolution, 2017.
DAVIS, Mike. O monstro bate à nossa porta. Rio de Janeiro, Ed Record, 2006.
DAVIS, Mike. Planeta Favela. São Paulo, Boitempo, 2006
WALLACE, Rob. Pandemia e agronegócio: doenças infecciosas, capitalismo e ciência. São Paulo, Elefante & Igrá Kniga, 2020.
MARX, K. O capital: crítica da economia política. Livro I, Volume I, São Paulo, Abril, 1988.
MENDES, K. Desmatamento e água contaminada: o lado obscuro do óleo de palma ‘sustentável’ da Amazônia. Mongabay, 12 março de 2021. Disponível em: https://brasil.mongabay.
com/2021/03/desmatamento-e-agua-contaminada-o-lado-obscuro-do-oleo-de-palma-sustentavel-da-amazonia/
MORSE, S. Emerging viruses. Oxford, Oxford University Press, 1996.
ZENG, Z. ET AL. Highland cropland expansion and forest loss in Southeast Asia in the twenty-first century. Nature Geoscience, 1, 2018.